24 de dezembro Diário Incontínuo
GÊNESE DOS MEUS “POEMAS
INÉDITOS”
Elmar Carvalho
Faz poucos dias
publiquei em meu blog o ensaio Elmar Carvalho – poemas inéditos, em que o
arguto e percuciente crítico literário Cunha e Silva Filho, pós-doutor em
Literatura Brasileira, comentou os poemas que enfeixei na seção Poemas Inéditos
de meu livro Lira dos Cinqüentanos. Estimulado por essa matéria, passarei a
falar sobre a gênese desses textos, na esperança de que isso tenha algum
interesse literário, mormente para os raros leitores de poesia.
Durante muitos
anos desejei escrever sobre chuva, fenômeno natural que me dá a sensação de uma
maior proximidade de Deus, sobretudo quando escuto os trovões longínquos, de
sons graves, cavernosos, como saídos das entranhas da terra. Imaginei fazer um
poema um tanto longo, com metáforas e onomatopeias, imagens de barcos de papel,
rumores de pingos d’água e coaxar de sapos, além de outros ingredientes. No já distante
ano de 2002, na cidade de Ribeiro Gonçalves, finalmente o escrevi. Após longa
viagem, em ônibus da Princesa do Sul, cheguei a essa cidade numa manhã chuvosa.
Fui da agência até o prédio do fórum debaixo de um chuvisco. Choveu durante a
semana toda, sem tréguas. Eu morava e trabalhava nesse edifício da Justiça. Com
o frio e o dedilhar da chuva no telhado, além da infindável cantoria dos batráquios,
de diferentes ritmos e tonalidades, com sopranos, barítonos e tenores, escrevi
o poema no dia 13 de janeiro do referido ano. O texto contém todos os
componentes citados e outros. Mais de década após, ainda sinto com intensidade
a lembrança dessa semana tão pluviosa, em que passei o sábado e o domingo
trancado no fórum, em solidão digna de um asceta, e não de um poeta.
Canção pastoril
de um urbanoide foi esboçada na rodoviária de Uruçuí, em um guardanapo de
papel, que peguei na lanchonete. Muitas vezes, antes de a cidade ter a sua
estação rodoviária, eu passeava pela cidade, enquanto aguardava a saída do
ônibus. Andava pela praça da matriz de São Sebastião e me dirigia até a margem
do Parnaíba, de onde eu contemplava, do outro lado, a cidadezinha maranhense de
Benedito Leite, então ainda acanhada e bucólica. Via, à boca da noite, as
estrelas fulgurando no infinito. Como eu me encontrava em trânsito, pois
viajava de Ribeiro Gonçalves a Teresina, via a paisagem dos cerrados e as
grandes roças de soja, e delineei o contraste entre uma vida bucólica e pacata
e a vida agitada de uma cidade grande. Às vezes via grandes bandos verdoengos
de periquitos e ouvia a sua algazarra festiva, e outras vezes me sentia saudado
pelo canto mavioso do sabiá do poeta.
O poema
Guernica, embora não tenha sido feito sob encomenda, coisa que nunca soube
fazer, de certa forma foi escrito por influência do professor Manoel Paulo
Nunes. Certa feita ele me pediu para organizar uma espécie de pequena antologia
de poemas de repulsa às guerras, para publicação na revista Presença, editada
sob sua responsabilidade, em virtude de ser o presidente do Conselho Estadual
de Cultura. Escolhi os textos, de diferentes autores, e como eu desejasse
participar dessa coletânea me determinei produzir o meu Guernica, que já era um
projeto antigo, mas que nunca tive o ensejo de realizar. Para fazê-lo me baseei,
sobretudo, nas imagens do filme O Pianista, que mostra toda a miséria e crueza
de uma guerra, mormente a desorganização do abastecimento e da vida civil, fora
a dramaticidade das relações sociais, com doenças, fome e morte.
O deputado
Humberto Reis da Silveira, que foi um excelente amigo, me contou a história de
um palhaço eslavo, que morrera e fora sepultado em Jaicós, sua terra natal,
muitas décadas atrás. Imaginei como seria a vida de uma pequena cidade do semiárido
naquela época. Pensei na ironia do tédio de um palhaço no ostracismo de uma
urbe pacata e insulada nos sertões do Cabrobó, uma vez que sua profissão se
destina a proporcionar a alegria da plateia. Sem dúvida esse clown deveria
viver saudoso de sua frígida terra, a sentir o bafo da canícula sertaneja.
Associei esse artista à mortal melancolia do palhaço do poema de Heine, e lhe
dei a necessária dramaticidade. Portanto, o meu texto nasceu da história
contada por Humberto Reis, que por sinal era um grande leitor e admirador da
melhor poesia piauiense.
Da janela do
apartamento, em Parnaíba, eu via uma fileira de grandes árvores, semelhantes a
pinheiros. O dono da casa em frente os plantara para formar uma espécie de
empanada, que impedisse a visão de sua piscina. Eu não gostava dessa situação,
porque isso me impedia de contemplar a paisagem ao longe, principalmente as
dunas e as palmeiras. Mas, ante o inelutável, tentei admirar a beleza dessas
plantas. Passei a vê-las como flexíveis bailarinas, dançando ao sabor do vento,
em suaves requebros e meneios. Também as via como altos mastros e velas.
Simulava um veleiro, no qual eu navegasse pela magia da imaginação. Por vários
meses tentei elaborar um poema que retratasse o que acabo de pintar, mas a musa
se mantinha arisca e arredia, por mais que eu a cortejasse. Um dia, ao tomar
alguns goles de cerveja, a contemplar com paciência essas árvores, o poema me
surgiu de forma dócil e integral, e quase não precisei retocá-lo.
Entre os poemas
inéditos [em livro] havia dois antigos, ainda do final da década de 1970:
Autoantropofagia e Simbolismo. O primeiro, mantive-o íntegro, tal como o
escrevi originalmente, mas fiz duas ou três pequenas modificações no segundo.
Autoantropofagia é um texto dito engajado, de conteúdo político, social, mas
muito sintético, e que contém algo dos chamados poemas piadas, em que tentei
cultivar meu senso de humor. Na verdade ele seria o paroxismo da fome e da autofagia.
Já Simbolismo é mesmo o que o título indica; é um poema simbólico, cheio de
imagens, mas revestido de pequena dose de surrealismo.
Creio que
tentei escrever o Teia de Te(n)tação no começo dos anos 1980, quando ainda
morava em Parnaíba. A ideia era colocá-lo em camisas de meia, que seriam
vendidas para custeio de um projeto cultural, do qual já não me recordo. Mas a
pessoa que faria o trabalho de silkscreen não levou à frente o seu projeto, e
eu terminei perdendo o texto. Muitos anos depois, suponho que em 2006, o
reescrevi. Conquanto seja um poema discursivo, que bem pode ser recitado, contém
recursos do concretismo, em que os negritos e os parênteses provocam
polissemias e duplos sentidos, mormente te(n)tações e ações libidinosas provocadas por belas e empinadas tetas.
No meu livro
Confissões de um juiz expliquei a origem do poema A um ganancioso morto, e por
que o escrevi. Por comodidade e para não me repetir, transcrevo o que foi dito
em Confissões:
“A
caminho de Várzea do Simão, à beira da estrada, sempre procurei ver o túmulo de
um homem que fora muito rico, mas que parecia insaciável, sempre desejoso de
mais terras, algumas delas, segundo comentavam, adquiridas de forma ilegítima,
através de logro ou fraude.
Durante
muito tempo ele tentou conseguir uma pequena gleba pertencente a meu sogro João
Rodrigues, dito João Simão. Chegou a simular uma falsa diligência policial para
pressioná-lo a assinar um documento que ele forjara, mas o velho, por
insistência de sua mulher, dona Filomena, não o assinou. Ante a negativa, ingressou
com um processo judicial contra o pai de minha mulher, que demorou muitos anos,
até meu sogro vencer a lide, através de seu advogado Luís da Graça, que ainda
cheguei a conhecer.
Eu
via o túmulo e ficava a meditar na ambição de certas pessoas. Aquele homem
desejara terras e mais terras, e finalmente poucos palmos de terra lhe eram
mais do que bastante. Nascemos sem nada trazermos, e quando morremos nada
podemos levar, para onde quer que possa ir a nossa alma imortal, segundo
acredito.
Nas
audiências assistia a muitas discussões por coisas miúdas, por pequenas
importâncias, por parte de pessoas que bem poderiam passar sem esses bens, sem
essas moedas. Embora eu reconheça ter certa habilidade para mediar as
conciliações, entretanto vi muitas vezes um acordo deixar de ser feito por
intransigência, por birra, por ganância, por apego demasiado aos metais.
Por
causa dessas reflexões e meditações, escrevi o poema A um ganancioso morto.
Mandei fazer um belo banner com este texto e uma pertinente ilustração.
Emoldurei e o afixei nas salas de audiência dos fóruns de que fui diretor, com
o objetivo de predispor as partes aos acordos, às transigências, ao desapego de
bens materiais.”
Por fim,
falarei do poema Viagem. Ele, como o nome sugere, foi estimulado pelas dezenas
ou centenas de viagens que fiz, nos 17 anos em que exerci a magistratura em
cidades interioranas. Sempre gostei de contemplar o céu da janela dos ônibus em
que viajei. Nesses deslocamentos ruminava algumas ideias para a concepção desse
texto poético. Mas ele é fruto também de pesquisa, das várias leituras que fiz
sobre astrofísica e mecânica quântica. É uma viagem do infinitamente pequeno ao
infinitamente grande, das abissais profundezas oceânicas às vertiginosas
refulgências do espaço sideral.
Com muita
propriedade observou Cunha e Silva Filho, com cuja “chave de diamante” encerro
este registro metapoético: “No último poema da seção “Viagem”, o poeta, mais uma vez, escreve um
longo e denso trabalho de dimensão cósmica, universal. Poema abrangente, de
andamento épico - recurso por ele já testado com sucesso mais de uma vez – no
qual o sujeito lírico empreende uma “viagem” que vai dos elementos minimamente
divisíveis da matéria física, dos átomos, dos minúsculos recantos da natureza
animal, vegetal e mineral, das superfícies da Terra às profundezas oceânicas,
da solidão do nosso planeta às culminâncias planetárias, do profano ao sagrado,
da realidade histórica aos mitos. Não satisfeito, o poeta adentra o universo
misterioso e encantatório da astrologia, criando magníficas imagens para cada
signo do Zodíaco.”


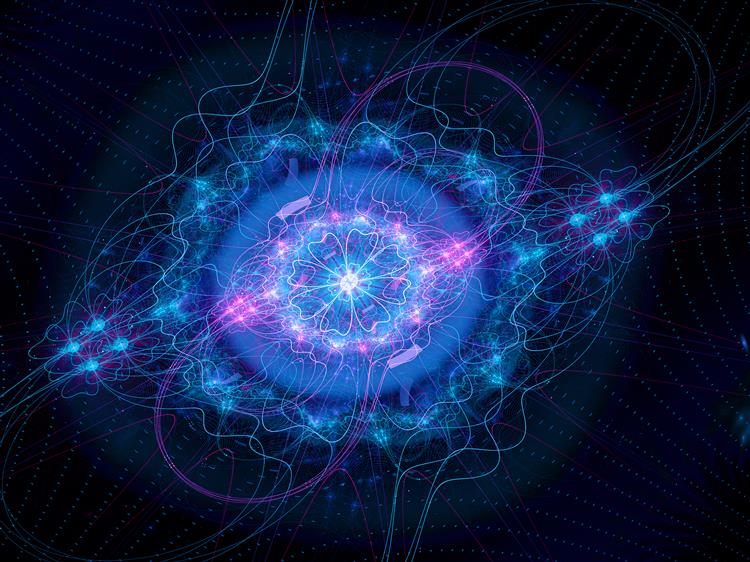

Nenhum comentário:
Postar um comentário