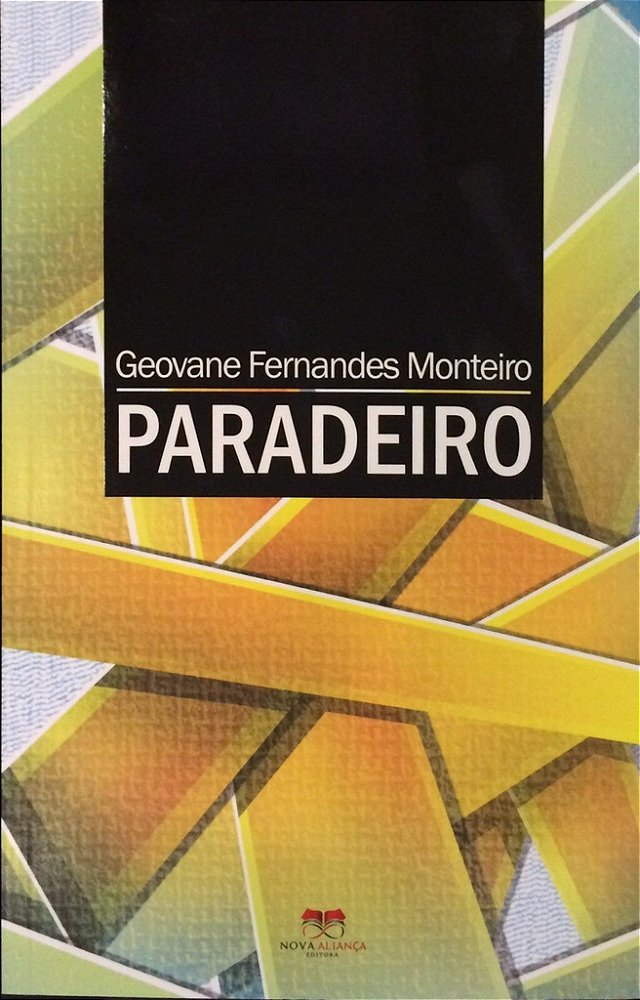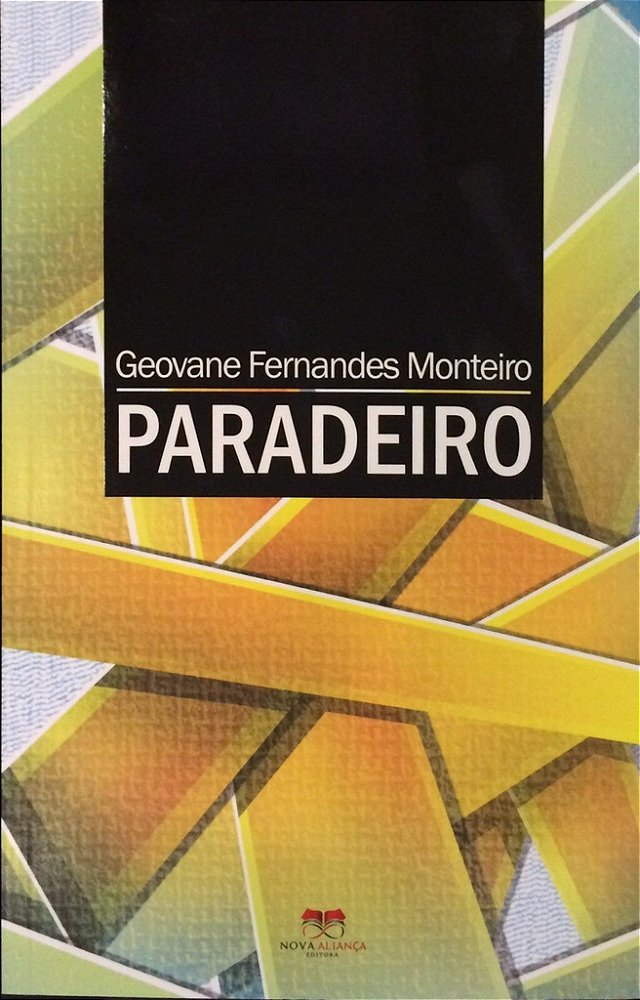 |
| Fonte: Google |
"Paradeiro", de Geovane Fernandes Monteiro: uma estreia e uma promessa
Cunha e Silva Filho
Escrever sobre um obra de estreia de um jovem ficcionista torna a responsabilidade do crítico ainda bem maior do que escrever sobre um autor já conhecido e bem analisado pela crítica. Desta vez, tenho diante de mim o livro de contos Paradeiro
[1] do piauiense Geovane Fernandes Monteiro.
Segundo breves dados biobibliográficos fornecidos no final do pequeno volume de contos, o autor, formado em Letras, escreve também poesia, crônicas, artigos e já tem a seu favor alguns prêmios conquistados fora do Piauí. Fez parte de várias coletâneas pelo país afora, o que é bom sinal de que o ficcionista pretende mesmo dar continuidade à sua produção e enfileirar-se ao número elevado de outros jovens autores que serão acrescentados à produção ficcional brasileira. O Piauí, quer-me parecer, já vai aumentando, ao contrário do que havia no passado com o predomínio de poetas, substancialmente o número de ficcionistas na contemporaneidade, de tal sorte que muitos escapam ao conhecimento de quem faz crítica literária, o que é, no mínimo, natural nas condições hoje oferecidas a esta atividade que, no passado, foi muito intensa em nosso vida literária.
Para um estreante, devem-se acentuar de início alguns pontos fundamentais de construção ficcional nele evidentes: seu domínio narrativo, seu poder descritivo, sua boa dose de imaginação e sua forte tendência de fundir a prosa e a poesia de molde a resultar num texto que envolve o leitor num espaço e tempo tendentes a um mundo ficcional regido pela força do interioridade do que o mundo empírico não é capaz de dar conta.
O que a leitura dos seus contos suscita é aquilo que, em poesia, se chama de estranhamento, os formalistas russos denominam de ostranenie,
[2]i.e., desfamiliarização ou desautomatização dos modos comuns pelos quais percebemos a realidade e as situações existenciais. Seu intento é o de impactar o leitor. O mundo empírico, a partir desse desvio literário, assume uma nova forma de “realidade” tanto em lidar com o narrador quanto com a narrativa. Essa estratégia, no passado, já fora usada por poetas como Wordsworth (1750-1850) e Shelley (1792-1822. A vanguarda, na ficção e na poesia, da mesma maneira fez uso desse traço linguístico-literário. O mesmo diria da nossa poesia modernista nas suas fases mais radicais.
Em Paradeiro tal uso do estranhamento ocorre não só ao nível do narrador mas também no discurso literário. Ora, ao utilizar-se de tal estratégia, Geovanne Monteiro não vai satisfazer o leitor habituado ao romance de corte tradicional, mais focado no enredo, nas peripécias da narrativa. Desta forma, o horizonte de recepção da obra se encolhe para certas faixas de leitores e não atinge a maioria. Teoricamente, se elitiza.
Outro componente da linguagem que logo nos chama atenção é a recorrência do emprego da oxímoro ou do paradoxo ao longo dos contos.Vejam-se, por exemplo, “(...) intenso e efêmero,”
[3] primeiro conto, “Paradeiro,” da primeira parte da obra, ou “(...) pequenez profunda,”
[4] ou estoutro “(...) harmonia da desordem,”
[5]conto “Redescobrindo Teresina,” o quarto da primeira parte. Há também na sua linguagem, diria na sua sintaxe literária, um recurso bem original, que é o emprego de um sintagma no qual o adjetivo e o substantivo guardam um inusitada combinação de efeito antinômico a fim de configurar um estado mental ou emocional de uma personagem, segundo se constata nos exemplos “(...) em difícil doçura,”
[6] conto “Paradeiro”; “(...) severidade paciente;”
[7] “(...) contradição animada;”
[8] “(...) pobre superioridade,”
[9] conto “Redescobrindo Teresina.”
Tal feição conduz a narrativa a exigir do leitor uma constante reflexão diante de frases em tom sentencioso,aforístico, hermetizando o discurso literário da mesma maneira que, na poesia contemporânea ou nas antigas vanguardas do início do século passado, a descodificação torna-se antes mais sentida do que explicitada, como se estivéssemos em pleno estado característico da poesia simbolista, guardadas as proporções,com a conhecida recomendação de Paul Verlaine (1844-1896): “sugerir sempre, nomear nunca.”
A sensação que passam ao leitor os contos de Geovane Monteiro é a de um mundo ficcional poetizado ou metaforizado tanto no sentido dos sentimentos bons quanto maus ou indeterminados.
O livro, segundo aludi acima, se divide em duas partes, ambas com intenções bastante desarticuladoras: 1) “Histórias mal contadas ou entre o medo e a saudade”. Esta se compõe de quatro contos, o primeiro dos quais dá título à obra; 2) “De volta ao esboço ou fica comigo.” Reúne três contos.
Há que considerar, na compreensão geral dos contos, o valor das parataxes relativas à primeira parte da obra, usadas pelo autor, com citações de escritores universais, Dostoiévski (1821-1881), Lao Tsé (605 a.C-531 a. C.) e Fernando Pessoa (1888-1935); na segunda parte do volume, são citados, dois brasileiros de peso, Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) e João Guimarães Rosa (1908-1967) e um estrangeiro, o famoso Franz Kafka (1883-1924).
O curioso e ao mesmo tempo relevante é o fato de que em todos aqueles autores nomeados, sem dúvida um exemplo de “isotopia narrativa”
[10] convergindo, é claro, para a unidade temática da obra por inteiro instaurada pelos termos “caminho,” “paradeiro”(que aparece mais de uma vez na obra), ou equivalentes, “regressam, saída,”extraviados,” “chegada,” “retorno,” “travessia” Propositalmente ou não, esses termos fazem parte dos enunciados dos parataxes ou epígrafes. presentes, segundo referi antes, no livro. Por falar em parataxes, não se deve esquecer que o autor, no início da obra, com sua maneira desconcertante de escrever, inclui uma nota prévia ao leitor, a qual corrobora a natureza estético-composicional de seus contos no livro, sob o título “Aos outros”:Este livro esteve melhor escrito quando da falta de história tão fácil de contar. Apenas leitores inconscientes de sua escrita salvariam minha literatura. Este livro é minha pior bondade, pois – sem paradeiros – descubro o caminho.
[11]
Na análise destes contos, há que assinalar em todos eles o componente estrutural do enredo, ou de uma trama, que, na obra, recebem um tratamento "contra-ideológico" no que concerne às narrativas tradicionais lineares ou mesmo não lineares.
Paradeiro persegue algum enredo? Conta uma história? Contém ações? Sim, contudo de forma subvertida. Assim se dá no primeiro conto, “Paradeiro,” uma história que fala de um homem velho, já vencido pelo cansaço da vida e do seu passado, Antônio Soares Monteiro. Seu presente é a sua relação com os filhos, suas netas. Sua vida consiste em tentar se equilibrar entre as memórias do passado no sítio e a sua pálida vida presente de idoso e divorciado.
O narrador deste conto não deseja apenas situar a figura do velho Monteiro no espaço familiar e no espaço exterior, da rua, dos conhecidos, das conversas. O que mais interessa ao narrador é a vida interior da personagem nuclear, captar-lhe os anseios na fase de declínio vital, as boas lembranças, as frustrações e o seu destino humano e comum.
Mais um elemento a se acrescer a esta personagem típica do homem do interior é a sua forma de aguardar o derradeiro dia da vida, com a esperança na vinda de Cristo. A sua morte não se manifesta direta na matéria narrativa.
Ela vem obliquamente, graças a um recurso que, no conto se repete, não agora com a intenção puramente de se valer da fé, mas com o propósito de fundir hedonismo e alusão bíblica frente à sociedade do espetáculo tendo, por melhor ilustração o esvaziamento de valores positivos, o Big Brother Brazil que vai aparecer no derradeiro conto do livro, “Travessia.”
[12] Sobre este conto, voltarei a comentar nas páginas finais deste estudo.
No segundo conto, “Dona Maria,” o narrador-protagonista, na fase adulta, rememora o seu convívio, quando menino,com uma velha viúva atravessando os anos crepusculares de uma vida simples, cheia de lições a transmitir ao menino e que decida, depois, mudar de lugar s fim de morar com os filhos até seus últimos dias. O que flagra este conto é a questão mais uma vez da velhice e de seus percalços.
O terceiro conto, “O segredo da vida,” retrata psicologicamente os momentos decisivos de jovem Ada, pessoa simples, trabalhadora, habitante de um bairro periférico. Os instantes do drama pessoal mais intensos são o de pagar a passagem ao cobrador. Este é um ato simples e corriqueiro de uma passageira passar pela roleta, porém, no relato, adquire contornos de ordem pessoal e moral diante da situação psicológica da personagem num ambiente fechado de um ônibus lotado de passageiros e insinuações.
O estar no ônibus era uma forma também de pensar fora daqueles limites do carro e até pensar numa possível maneira de ser feliz dentro ou fora do veículo. Verdadeira sondagem subterrânea na alma de uma jovem pobre. Sobressalto e epifania. Alegria e dor. Fantasias de uma vida melhor, confortável e lembranças passadas.O ônibus como metáfora do mundo interior intenso de uma personagem presa à vida e às suas surpresas e limitações. Ada, o nome da passageira, é, sim, um poço fundo de vida interior.
Após descer do ônibus, dirige-se para a sua casa. Toda esse monotonia de um vida sem horizontes no cotidiano urbano assume um alto sentido do drama existencial inescapável nos seus segredos e nas suas finalidades de existir no anonimato.
“Redescobrindo Teresina,” o quarto conto, narra a história de um personagem conhecido apenas pelas iniciais de JS (alusão kafkiana?), esperado por um amigo num bar sem luxo, numa noite de um sábado teresinense. O evolver da narrativa bate na tecla da espera do amigo que nunca chega.
Enquanto aguarda a chegada do amigo, o mundo interior de JS ressurge forte e avassalador, indo às recordações de Água Branca, cidadezinha piauiense, onde viveram ele e o amigo. Agora, no presente da narrativa, estavam ambos em Teresina, um cidade já crescida, desconhecida, que oferecia perigos e novidades.Já eram estudantes de universidade. No meio de um gole de cerveja, o espaço ao redor quebrava algum silêncio com um música e os movimentos de um jogo de bingo.
Todo o conto é essa espera que não chega,mas que desperta a abertura para o insondável da existência humana e para a solidão.
Até agora, se vê que a atmosfera dos contos de Geovane Monteiro é invadida pela reflexão de estofo filosófico, de questionamentos e tentativas de interpretar os sinais da convivência humana, sobretudo no plano familiar e da amizade.
São narrativa pontuadas da “vaguidão,” de silêncios, de medos, de perigos e de inquietudes abissais. Ao analisar estes contos,me vem à mente algum modo de narrar e de olhar para o humano e o existencial de Clarice Lispector (1925-1977), ficcionista cuja narrativa mergulha densamente na contemplação e análise da vida e no destino de seus personagens, segundo a perspectiva de uma certa hesitação, de mistérios, ambiguidades, conceituações metafísicas, silêncios e indefinições, ou seja, de uma inconclusa procura de caminhos, num movimentar-se sem fim, propiciando ao leitor aquela sensação do texto beirando o poético e o dramático da condição do indivíduo no mundo.
Um literatura em desespero, em sofreguidão, em luta interior contra o vago e o indecifrável.Na ficção de autor piauiense, só consigo vislumbrar algo parecido em O.G. Rego de Carvalho (1930-2013) no que tange ao mundo interior, sombrio e indevassável de alguns personagens.
O texto se faz sensível, ao leitor, mas não se lhe entrega de bandeja. Nesta direção, é significativo, do ponto de vista metaficional, o seguinte trecho que aparece no conto “A chuva,” que, adiante comento:”Há encantos em não desamparar o desconhecido, hei de dominá-lo? Se o desafio é a falta de desfecho, o desconhecido é uma revelação.”
[13]
No conto “O alto da montanha,” o tema, de conotação visivelmente simbólica, faz girar seu eixo no desejo estético da personagem que aspira a encontrar a “beleza.” Esta é a sua busca: desentranhar o belo no que lhe seja possível. É uma narrativa plena de sortilégios. Na procura por nomear o que fosse belo, no seu deambular pelas ruas, ao mesmo tempo se misturavam sentimentos de liberdade, de autobeleza só alcançada caso fosse relacionada a outrem, até que uma amiga lhe oferece de presente uma “pedra.” Ora, de posse desse objeto, a personagem inicia a sua perquirição existencial cheia de contradições e de aporias, tanto quanto existem em alguns autores, por sinal o citado Fernando Pessoa.
Segundo o monumental Dicionário de símbolos de Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, a pedra, entre outros sentidos, está relacionada com a alma. A “pedra bruta” se considerava ainda como "símbolo da liberdade.”
[14] No Arcadismo, o topos da “pedra” está muito presente no poeta Manuel da Costa (1729-1789)). Segundo Antonio Candido, para aquele poeta:
(...)
a presença da rocha aponta nele para um anseio profundo de encontrar alicerce,ponto básico de referência que a impregnação da infância e adolescência o levam a buscar no elemento característico da paisagem natal.”
[15]
Recorde-se também o controvertido poema de Carlos Drummond de Andrade “No meio do caminho”
[16] aqui citado apenas na primeira linha do verso:”No meio do caminho havia uma pedra...”
No conto “A chuva” tem-se, sem dúvida, o ponto talvez mais evidente da capacidade de o autor construir uma narrativa sem mácula, uma pequena obra-prima no meio de bons contos. O que dizer desse conto? Somente encontro uma definição: é pura poesia. Latejar de sons e palavras poderosamente tematizando o fenômeno da chuva ressoando nos poros da existência.O ritmo frenético,uma enxurrada harmoniosa de enunciados lírico, num canto à natureza tendo por elemento nuclear a “água” – fonte da existência e equilíbrio na Terra.
O eu do narrador se espraia por todos os cantos de um espaço indefinido. Fala de si e dos multifários contornos da Natureza-Mãe abrangendo todo um vasto movimento da paisagem humana e da força da natureza no seu dinamismo natural e irreprimível, construindo um caleidoscópio atravessado pelos corpos, pelos objetos e pelos espíritos dos homens diante dos fenômenos naturais.
Se há catarse do trágico pode-se asseverar que o há igualmente no lirismo desta narrativa, na exaltação assombrosa dos movimentos, das mutações, das ondulações, do solo, do ar, dos ventos, dos mares, e da “alma,” termo que aparece reincidente na narrativa destes contos surpreendentes e, a meu ver, muito bem elaborados, elaborados com plena consciência estética: “Viu o adeus da amiga no perigo de uma bondade. Ela obedeceu a seus mistérios.”
[17]
Atinge, finalmente, este pequeno volume o derradeiro conto, “Travessia.” Essa narrativa retoma, em muitos traços temáticos a notação autoficcional do primeiro conto, a que, de resto, não fiz claramente alguma alusão. Suas referências se alicerçam nas raízes familiares do autor e no forte tom rememorativo da figura do velho Monteiro. Só que no conto inicial, o narrador é de terceira pessoa, ao passo que, no conto final, o narrado é de primeira pessoa. O conto se desenvolve em seções, ao todo, nove, sendo as últimas formadas de pequenos enunciados.
Entretanto, é uma conto independente ainda que retomando aspectos semelhantes do primeiro conto do volume. Tem-se, agora, as lembranças de um adulto que remontam aos treze anos. Fala da infância, do início da adolescência, do sentimento do amor juvenil, da competição pelo mesmo ser amoroso, dos sobressaltos, dos medos, das incompreensões nunca aclaradas ainda que pelo distanciamento temporal e amadurecimento do adulto. Tanto é que o narrador, aqui e ali, recorre à palavra “vagueza” ou suas derivadas ou sinônimas (e isso vale praticamente para o livro todo).
O conto oscila entre o passado e o presente do narrador. Ou seja, as recordações se tornam novamente vivas na elucidação do presente do jovem adulto da Teresina moderna.
Durante o fechamento de um sinal de trânsito, no seu carro, passa em revista as mais enternecidas passagens de sua infância e adolescência no interior, Água Branca, que, a caminho do trabalho, na cidade de Teresina, já com traços de cidade grande.
Neste vaivém de reminiscências e sobressaltos existenciais, o jovem adulto retorna ao presente tão ao logo abre o sinal de trânsito. Suas reflexões, sempre pontuadas pelos elucubrações de natureza existencial e vincadas de frases sentenciosas, conceituais, se concentra numa espécie de surda denúncia de modos e estilos da vida moderna, vida pautada pelos meios eletrônicos, pelo sensacionalismo das mídias, pelo universos virtual. Seu tom é de franca crítica à vulgaridade da sociedade de espetáculos, disfarces do marketing e da publicidade, espaço artístico sem sentido e vazio.
A narrativa reveste, então, ares de montagem, de fusão de realidades artificiais. O exemplo mais contundente é sua clara referência ao programa de TV BBB - fonte de hedonismo oco e disparatado conduzindo massas amorfas e alienadas. Parte de uma seção, a quinta do conto, com evidentes
[18] vestígios de pós-modernidade, é uma contundente denúncia a esta nova modernidade que mistura o profano e o sagrado. Daí o clamor do narrador invocando figuras de destaque do Velho Testamento em tempos apocalípticos. É curiosa a inclusão nesta seção de palavras da língua inglesa que reforçam o traço globalizante das imitações midiáticas ao mesmo tempo que são lembradas cenas de horrores de guerras e mortos, de refugiados. O texto, assim manejado habilidosamente pelo narrador, junta objetos difusos e díspares, num caldeirão semântico e conceitual que nos desconcerta pelo impacto que pode ter o leitor em termos de comunicação literária.
Não deixa esta seção de ser um belo libelo (valem a rima e o oximoro, por coincidência em consonância com o espírito geral deste conto) contra os tempos(templos) atuais em qualquer cidade contaminada pelos big brothers do capitalismo devorador da multidões famintas de consumo e de entretenimento que estiolam a inteligência da massa de espectadores de programas de baixo nível da televisão brasileira, fenômeno que, aliás, não é privativo de nosso país.
Os períodos finais desta narrativa retomam as lembranças do pai e, como sempre, as aporias prevalecem, dando apenas uma posta final na hermenêutica da obra, que não deixa de ser uma epifania à criação literária: “Retorno a casas, vivo minha pior bondade, pois – sem paradeiro – descubro o caminho.”
[19] Este epílogo, em parte, já se tinha anunciado naquela nota “Aos outros.”
[20]
Uma palavra ao autor não deixaria por menos: se a posse dos segredos da ficção aponta para novas excursões, que o autor, sem se desviar de seu estilo de escrita, saiba também penetrar no mundo ficcional por caminhos renovados que não percam um pouco da chama ardente das grandes lições das narrativas da tradição literária.
Que, não abdicando da originalidade de sua escrita, possa seduzir os leitores a veredas que ainda acenam a um bom enredo a despeito dos experimentalismos necessários à oxigenação da narrativa contemporânea. Basta descer um pouco na escala do hermetismo e a estrada do imaginário lhe estará aberta e lhe será bem-vinda.
[1] MONTEIRO, Geovane Fernandes. Paradeiro. Introdução de Perce Polegatto e orelhas do editor.Teresina: Nova Aliança, 2016, 104 p,
[2] GRAY, Matin. A dictionary of literary terms. 2nd edition. Essex:, EnglandLongman York Press, 1994, p. 206.
[3] MONTEIRO, Geovanne Fernandes. Idem, p. 23.
[10] Apud PIRES, Orlando. Manual de teoria e técnica literária. 2 ed.rev. . e ampl.Rio de Janeiro: Presença, 1985, p. 288.
[14] CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT. Alain. Dicionário de símbolos. 8 ed. rev.. e aumentada. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1994. Trad. de Vera da Costa e Silva, Raul de Sá Barbosa, Angela Melim e Lúcia Melim. Verbete "pedra", p. 696..
[15] CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira. momentos decisivos. 6. ed. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia, p. 88-89.
[16] ANDRADE, Carlos Drummond de. “No meio do caminho”. In: __. Poesia e prosa. Rio de Janeiro. Editora Nova Aguilar, 1983, p. 80
[17] MONTEIRO, Geovane Fernandes, idem, p. 84..
[18] Idem, p. 99-101.