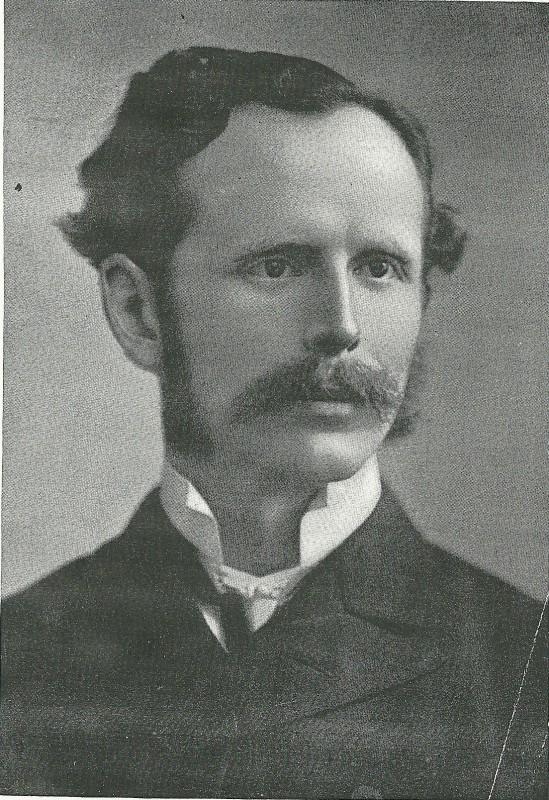 |
| Henry Drummond - Fonte Google |
DIÁRIO
[O dom supremo]
Elmar Carvalho
30/04/2020
Estava lendo
ontem O Dom Supremo, que é o título como ficou conhecido célebre sermão,
fundamentado na carta de São Paulo aos Coríntios, proferido por Henry Drummond,
em formato virtual da Amazon/Kindle, com tradução e prefácio de Paulo Coelho,
quando fui abordado pela Fátima sobre um assunto relativo a preconceito e
intolerância.
Lembrei-me, então, de uma conversa
que tive, faz quase vinte anos, dentro de um velho e empoeirado ônibus, alta
noite, com o magistrado João Batista Rios, quando seguíamos para as nossas
remotas Comarcas, ele, a de Bertolínia, eu, a de Ribeiro Gonçalves, ainda mais
distante. Na época eu tinha dúvida sobre o que seria mais importante, se a
caridade, se o amor.
Muitos entendiam que a caridade seria
superior, porque era revestida, digamos, de uma “ação prática”, concreta, ao
passo que o amor seria um “mero” sentimento, sem efetividade nenhuma. Hoje,
fundamentado na epístola I Coríntios, de São Paulo, e no sermão O Dom Supremo,
de Henry Drummond já não tenho dúvida nenhuma.
Aliás, a bem da verdade, desde essa
conversa com o amigo Batista Rios passei a não ter mais essa dúvida, pois
passei a entender que o amor, o amor verdadeiro, leva uma pessoa aos gestos
largos e generosos, aos grandes sentimentos, que ele parece amalgamar, e que
impulsionam o ser humano a cometer boas ações e a ter bons comportamentos,
inclusive os da generosidade, da gentileza e da humildade.
No prefácio, colho a informação de
que quem iria falar era o mais famoso pregador da época, que no momento se
sentiu esvaziado, sem inspiração para o mister. Ele, ato contínuo, pediu a um
jovem missionário que o substituísse, o que provocou, sem dúvida, uma forte
frustração na assistência, que se preparara para ouvir o maior orador sacro de
então.
Henry Drummond, o jovem e inexperiente
missionário, que regressara da África há pouco tempo, e que ainda buscava
definir a sua verdadeira vocação, sem dúvida tocado pelo Espírito Santo, produziu
de improviso um dos mais magníficos sermões de todos os tempos, ainda mais
admirável por ser claro e belo, embora profundo em sua análise do amor, o dom
supremo ou summum bonum.
Em seu notável sermão, Henry Drummond
afirma que “O amor é a regra que resume todas as outras regras”, e que é o
“mandamento que justifica todos os outros mandamentos”. Explica que o amor é
composto de nove ingredientes: paciência, bondade, generosidade, humildade,
delicadeza, entrega, tolerância, inocência e sinceridade. Justifica todos esses
componentes com citações do texto de S. Paulo.
Com relação à tolerância, transcreve
que o amor “não se exaspera”. Considera a intolerância como uma “verdadeira
falha de caráter”, e não como um pecado inerente à natureza humana, que dificilmente
poderíamos corrigir, e acrescenta que a Bíblia, em várias outras passagens,
coloca a intolerância “como o elemento mais destruidor da nossa maneira de
agir”, para em seguida afirmar:
“O que mais impressiona é que a
intolerância, o preconceito, está sempre presente na vida de pessoas que se
julgam virtuosas. Geralmente é a grande mancha numa personalidade que tinha
tudo para ser gentil e nobre.”
Consta que Henry Drummond, ao ser
designado de forma inesperada para fazer a sua prédica, “pediu emprestada a
Bíblia de um dos presentes e leu um trecho da carta de São Paulo aos Coríntios”.
Julgo de bom alvitre, para reflexão e como um arremate a este registro, transcrever
os dois versículos iniciais do trecho que ele leu, e que lhe serviu de mote
para a glosa genial do famoso sermão:
“Ainda que eu falasse as línguas dos
homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o
sino que tine.
E ainda que tivesse o dom de
profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse
toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada
seria. [1 Coríntios 13:1,2]”






































