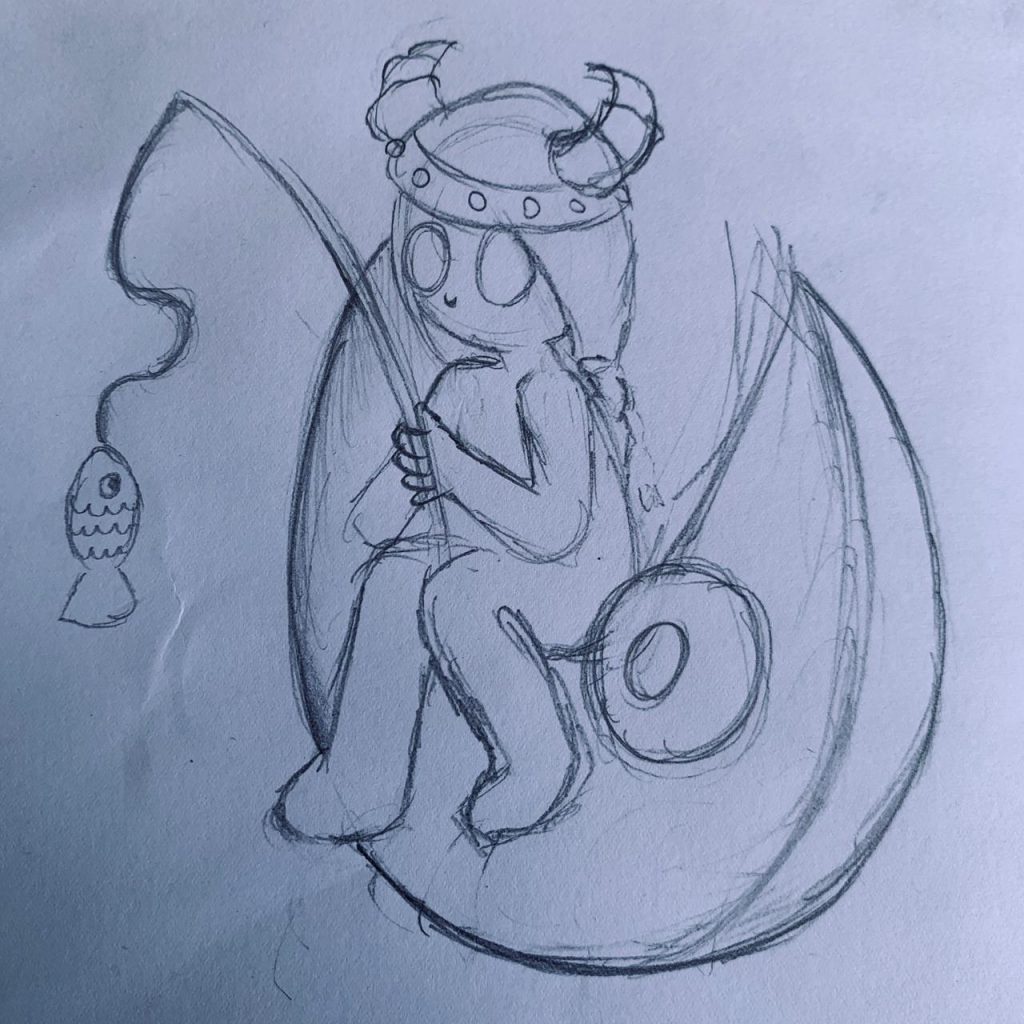DIÁRIO
[Poesias e crônicas de Paulo Couto]
Elmar Carvalho
02/09/2020
Dias
atrás o cronista e poeta Paulo de Athayde Couto, por WhatsApp, me solicitou meu
endereço, pois pretendia me enviar um livro de sua autoria pelos Correios. Na
quinta-feira a encomenda chegou a minha residência. Tem uma bela capa produzida por Norma Couto, artista
plástica e professora universitária. Como não é volumoso, no
domingo pela manhã concluí sua leitura.
Com
vista a este registro, fiz pequenas anotações e marquei alguns trechos, que
pretendo comentar. Também procurei tirar algumas dúvidas e lhe fiz algumas
indagações, para enriquecer esta crônica. Um dos trecos grifados é o seguinte, que consta no prefácio, da
autoria do seu irmão Vitor Couto:
“Uma palavra resume a poesia de Paulo Couto:
sentimento.
Mas não é qualquer sentimento. É, ao mesmo
tempo, o sentimento da província e o ‘sentimento do mundo’. Com sua poesia,
Paulo Couto universaliza a aldeia.
Honesto e transparente (como concerne a todo
poeta pessimista), resume, no poema ‘Sentimentos’, o maior de todos: o
‘sentimento morto’. Por vias das dúvidas, mortal.”
Conheço-o desde março de 1977, quando iniciamos o curso de Administração de Empresas,
no Campus Ministro Reis Velloso – UFPI. Fomos colegas de turma até sua
conclusão em 1980. Para minha satisfação, numa de suas crônicas ele recorda
nossa amizade e esse período de nossa vida:
“Nos anos 70 quando iniciei o Curso de
Administração de Empresas na UFPI, Campus Reis Velloso, tive um colega de turma
chamado Elmar Carvalho. Tenho boas lembranças de todos os colegas, mas com o
Elmar foi diferente. Ele era poeta e numa das muitas conversas que tivemos, ele
ficou sabendo que eu tinha escrito algumas poesias. O Elmar me levou na gráfica
do Jornal Norte do Piauí e lá eu conheci o proprietário Mário Meireles. Minha
primeira poesia publicada foi nesse Jornal.”
Nesse
pequeno texto memorialístico, de menos de uma página, titulado Como foi que
tudo começou, Paulo relata fatos interessantes do seu início de literato. Conta
que foi sempre incentivado a escrever pelo seu pai, o professor Lima Couto, com
quem tive várias conversas em sua residência, quase todas sobre o magistério ou
literatura, já que ele lia os grandes escritores e poetas nacionais. Revela que
passou a escrever crônicas, quando leu uma da autoria de um primo seu.
Em
seus frequentes contatos com a oficina do jornal tipográfico Folha do Litoral,
no qual mantinha a coluna “Cosmo”, conheceu seus redatores, gerente e
empregados, entre os quais cita Bernardo Silva, Rubem Freitas, Batista Leão,
Batistinha e Xixinó. Vários deles já são falecidos. Narra que chegou a fazer a
revisão desse hebdomadário, “a título de colaboração”. Por fim, confessa que
nessa época surgiram vários jornais alternativos, tendo sido colaborador de
muitos deles, com crônicas e poemas.
Quase
todos eram confeccionados no formato apostila e “impressos” em mimeógrafo. Eu e
ele fomos colaboradores, com crônicas e/ou poemas dos seguintes: Inovação,
Batalha do Estudante, Querela, Abertura, bem como da página cultural do jornal
O Dia. Fizemos parte da diretoria do Abertura, que era assim composta: Olavo
Rebelo Filho (presidente), Paulo Couto (vice-presidente), Elmar Carvalho
(secretário) e Francisco Filho (tesoureiro).
Em
1978/1979, quando fui presidente do Diretório Acadêmico 3 de Março, do Campus
Ministro Reis Velloso, empreendi vários eventos e realizações no setor de
esporte e cultura, entre os quais conserto dos equipamentos da sala de jogos,
torneio futebolístico, festival de música, jornada cultural, em que houve palestra de Israel Broder
e Antônio José Medeiros, fora outros conferencistas. Além disso, publiquei um
cartaz com poemas e o livro Poesia do Campus, de que fizemos parte eu, Paulo,
J. L. de Carvalho, Adrião Neto, Antônio Albuquerque Monteiro, José de Ribamar
Ferreira e Wilton de Magalhães Porto. Muitos fizeram sua estreia literária
através desse despretensioso opúsculo.
No
seu notável trabalho “O produto cultural alternativo dos anos 70 em Parnaíba”,
o escritor e poeta Alcenor Candeira Filho assinala que “foi e é da maior
importância para a história cultural de nossa cidade a atividade intelectual,
gerada sob o império do arbítrio, desempenhada em Parnaíba, nos anos 70".
Além
da proliferação de jornais alternativos, houve significativa publicação de
coletâneas ou obras coletivas mimeografadas em Parnaíba. Na segunda metade dos
anos 70 também houve uma acentuada aproximação literária entre a Princesa do
Igaraçu e Teresina. Parece que havia certo distanciamento entre as duas
cidades, não sei se ainda resquício da silenciosa e quase invisível rivalidade entre
as duas urbes, desde os áureos tempos do apogeu do extrativismo econômico, em
que Parnaíba imperava no Estado do Piauí, com as suas poderosas empresas, tais
como Casa Inglesa, Casa Marc Jacob, Moraes S. A., Pedro Machado, etc.
Pois
bem, na segunda metade dos anos 1970, houve ainda a publicação de várias
coletâneas, congregando autores teresinenses e parnaibanos. Essas obras eram
lançadas na capital e em Parnaíba. Também alguns autores da capital proferiram
palestras na litorânea cidade. Eu, o Paulo, o Kenard Kruel e o Alcenor
participamos de muitas dessas publicações.
Acho
importante citar algumas dessas obras com seus autores: Galopando (Elmar
Carvalho, Josemar Nerys, Paulo Couto, Paulo Machado e Rubervam Du Nascimento),
Em três tempos (Kenard Kruel, Paulo Couto e Elmar Carvalho) e Aviso Prévio
(Paulo Machado, Afonso Lima, Raimundo Alves Lima, o RAL, João de Lima, Menezes
y Morais, Alcenor Candeira Filho, Rubervam Du Nascimento e Cineas Santos, seu
editor). Conquanto de forma esporádica ou eventual, eu e Jorge Carvalho fomos
colaboradores da Revista Cirandinha, editada em Teresina por Francisco Miguel
de Moura.
Paulo
participou também de outros periódicos e coletâneas, que ele refere em sua
síntese biográfica, dentre eles Salada Seleta, Fresta, Tetéu, Neojornal, etc.
Mais recentemente participou de duas importantes obras coletivas: A poesia
Parnaibana (2001) e Parnárias – poemas sobre Parnaíba (2017), organizadas a
primeira por Adrião Neto, Alcenor Candeira Filho e Elmar Carvalho, e a segunda
por Alcenor Candeira Filho, Elmar Carvalho e Inácio Marinheiro.
O
poeta nasceu em Parnaíba, em 25 de fevereiro de 1956, um mês e alguns dias
antes de mim. Seu livro individual, que ora apreciamos, foi lançado em 7 de
março do corrente ano, dia do aniversário de sua esposa Marta Cerqueira Couto,
com quem teve os filhos Tiago, Luíza e Júlia. Portanto, antes da pandemia,
quando ele já completara 64 anos de vida. Dele disse, com muita propriedade,
Emanuel Carvalho, seu genro, na festa de lançamento:
“Teve parte de sua vida dedicada ao Banco do
Brasil, onde trabalhou por trinta anos, cercado de protocolos, normas,
horários, números, cédulas e papéis. Apesar de sempre responsável e dedicado
nunca se conteve com o formato mecanizado e um tanto quanto cruel de trabalho,
por isso fazia da literatura um subterfúgio, sentia-se muito mais à vontade
junto às palavras que com as cifras. É como dizia Ferreira Gullar: ‘A arte
existe porque a vida não basta’.”
Como
bem disse Vitor Couto no prefácio, a poesia de Paulo Couto é referta de
sentimento, e ele é de fato um poeta honesto e transparente. Não se lhe pode
aplicar por conseguinte os versos de Fernando Pessoa: “O poeta é um fingidor / Finge
tão completamente / Que chega a fingir que é dor / A dor que deveras sente.” De
fato ele é sincero, e por isso é honesto e transparente, avesso que é às
simulações e dissimulações.
A
ele, com as devidas adaptações ou mutatis mutandis, poderiam ser aplicados
alguns versos do Poema em Linha Reta do mesmo enorme poeta: “Nunca conheci quem
tivesse levado porrada / Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo /
eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil.” Claro, ao meu
amigo Paulo Couto não poderia ser endereçado o último verso desta segunda
citação, porque ele é um ser humano digno e decente, porém sem hipocrisias e
falso moralismo.
Ele,
como todos nós, levou as suas “porradas” da vida, só que ele, ao contrário de
muitos de nós, teve a coragem de as confessar em suas pequenas, porém densas,
crônicas memorialísticas. Todos nós revelamos que temos eventuais e fugazes
tristezas, mas nunca ou quase nunca admitimos ter tido a terrível depressão,
que parece ser o mal deste século. Numa página pungente, revestida de profunda
sinceridade e tom confessional, ele relata sua experiência, da qual julgo
importante transcrever o seguinte trecho, para que nos possa servir de
advertência:
“Muita gente já passou por isso. Ter
depressão é uma coisa terrível. Eu não desejo isso para ninguém. É difícil descrever
o que a pessoa sente. No meu caso foram quatro anos e meio com a doença. Foram cinco
psiquiatras e dois psicólogos. Nenhum desses profissionais conseguiu entender o
que eu sentia. Seria tristeza, seria...
Tive, depois de muito estresse, uma depressão profunda. Fui medicado com
remédios que provocavam delírios. Chegaram a pensar que eu estava com esquizofrenia.
(...) O tempo passou e um dia qualquer descobri por mim mesmo o que tinha ocasionado
a doença: assédio moral no trabalho.”
Suas
crônicas, sempre pequenas, compactas em sua exemplar concisão, são em boa parte
evocativas, memorialísticas, e relatam passagens de diferentes quadras de sua
vida, como da meninice, em que nos fala dos jogos e brincadeiras que praticava,
da juventude, e do emprego, que, se lhe proporcionou segurança financeira, não
lhe deu alegria. Vejamos o que ele diz sobre o início de sua carreira e de sua
vida de casado, na pequena e distante cidade de Elesbão Veloso:
“Fiz o concurso para o Banco do Brasil em
1982. No fim de 1983 recebi o chamado para trabalhar em Elesbão Veloso. Eu me
casei em 06 de janeiro de 1984 e dez dias depois assumi o emprego. (...) Fiquei
uns dias numa pensão até alugar uma casa para morar. Minha esposa foi um mês depois
para aquela pacata cidade. Foram dois anos de lua de mel que acabou quando o
primeiro filho nasceu.”
Verificando
que muito já me alonguei neste registro, farei agora uma síntese dos poemas e crônicas
do livro. Com sentimento, transparência e honestidade, falam de variados
assuntos, como as mazelas sociais e os desvios da política, do consumismo, da
solidão no meio da multidão, nas lembranças da Parnaíba de sua infância,
adolescência e juventude, de sua vida escolar e de bancário, dos prédios e
logradouros que lhe povoaram as lembranças e a saudade.
Paulo
Couto é um homem de muitas leituras e de muita experiência no mister de
escrever, e, portanto, conhece teoria literária e as diferentes figuras de
estilo e linguagem. Por isso, se o desejasse, poderia ter injetado em seus
textos os mais diferentes artifícios e pirotecnias da arte literária.
Mas
não o fez, porque na concisão, na simplicidade e na limpidez de sua escrita,
buscou mesmo expressar seu sentimento e emoções com sinceridade, desiderato que
não seria alcançado com os malabarismos e firulas de um estilo rebuscado e
cheio de fogos de artifício.
Obras
consultadas:
Poesias
e crônicas (2020) – Paulo Couto
Aspectos
da Literatura Piauiense (1993) – Alcenor Candeira Filho
Seleta
em Verso e Prosa (2010) – Alcenor Candeira Filho
Anos
70: por que essa lâmina nas palavras? (1993) – José Pereira Bezerra