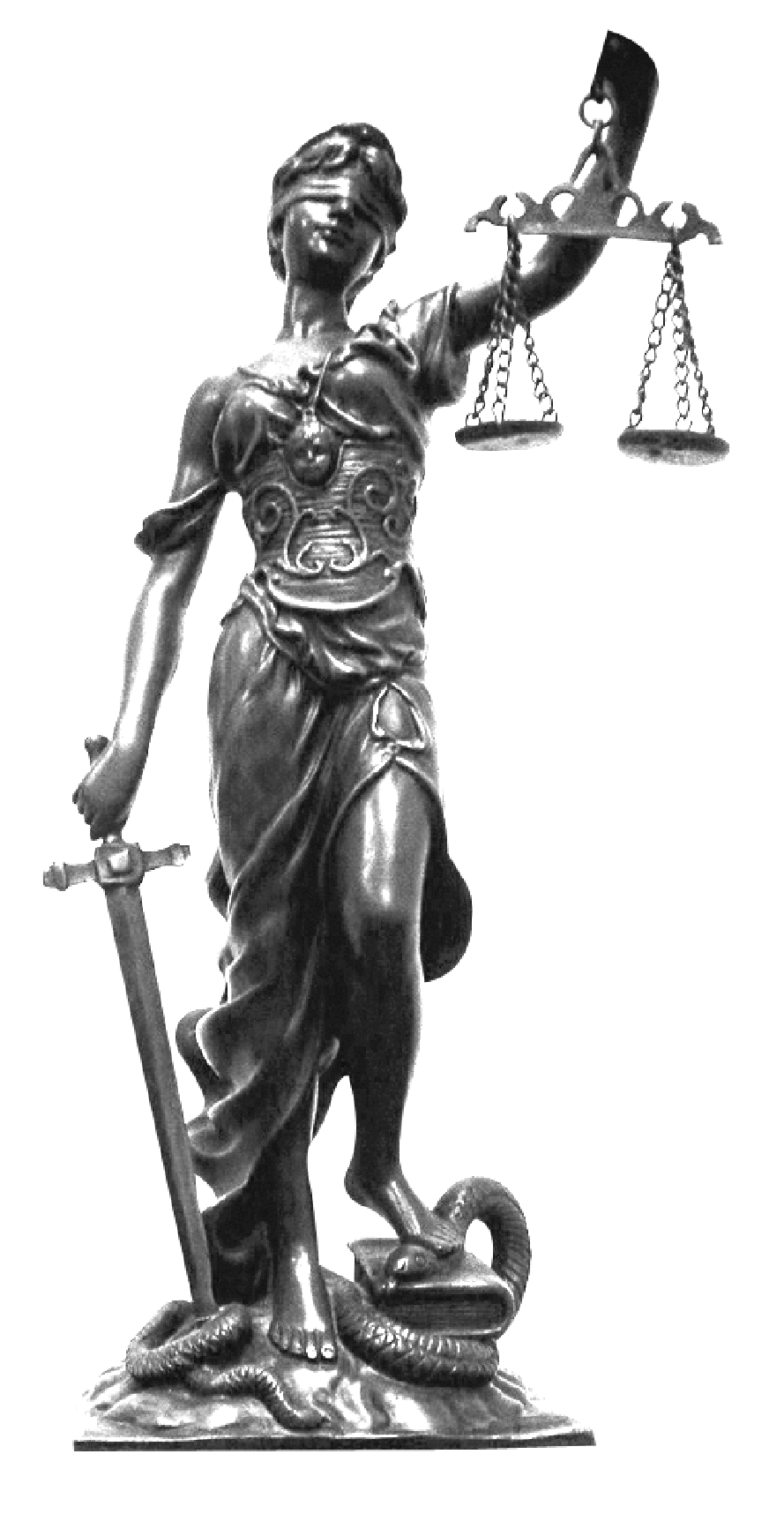|
| Diplomata Marcus Henrique Paranaguá |
Jesualdo Cavalcanti Barros*
Com a bela palestra do jovem diplomata correntino Marcus Henrique Paranaguá, até há pouco servindo no consulado brasileiro de Nova Iorque (EUA), a Academia Piauiense de Letras deu início ao Ano Marquês de Paranaguá em concorrida solenidade no Auditório Acadêmico Wilson Brandão, na manhã do dia 11 de fevereiro de 2012. O evento visa a celebrar o centenário de falecimento de João Lustosa da Cunha Paranaguá, segundo visconde e marquês de Paranaguá, ocorrido no Rio de Janeiro, em 9 de fevereiro de 1912. Paranaguá é patrono da cadeira nº 18, atualmente ocupada pelo acadêmico Herculano Moraes.
Pretende o sodalício, durante 2012, por meio de palestras, encontros, debates e publicações, sensibilizar a sociedade piauiense e suas instituições culturais e educacionais, para um amplo estudo da vida e da obra do preeminente coestaduano, por certo o maior de todos, embora pouquíssimo conhecido nestas plagas de tanto desleixo com sua cultura, valores e memória histórica.
Paranaguá nasceu na fazenda Brejo do Mocambo, nos remotos sertões de Parnaguá, “aquela espécie de nação gurgueia” de que fala Fonseca Neto, em 21 de agosto de 1821. Sobre esse sítio diria o ouvidor Antônio José de Morais Durão, em sua Descrição da Capitania de São José do Piauí, de 1772: “com 42 moradores, que fazem um povo mais numeroso que a própria vila, da qual dista 12 léguas ao mesmo rumo, mas nem nome tem de aldeia, nem juiz ou justiça, ao passo que se aumenta em cultura e negócio.” Na inspeção que realizou na vila de Parnaguá, instalada pessoalmente pelo governador João Pereira Caldas havia dez anos, despertou a atenção do ouvidor a saúde de seus moradores, graças aos bons ares, tanto que encontrara, nos 29 fogos em que se distribuía sua diminuta população, nada menos de três homens em avançada idade: um com 110 anos, outro com 112 e o terceiro com 120.
Com a opulência gerada pela criação de gado, de que resultaria a chamada civilização do couro, não admira que da velha fazenda tenha surgido nada menos de 40% da nobiliarquia piauiense (o marquês com dois títulos e mais os irmãos – barões de Paraim e de Santa Filomena), no total de dez títulos para oito agraciados.
Paranaguá bacharelou-se na antiga Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco (1846). Formar-se em Direito era o sonho dourado de jovens futurosos, justamente aqueles predestinados ao exercício de um “verdadeiro mandarinato” na sociedade brasileira dos séculos XIX e XX. Conforme exaustivas pesquisas que publiquei em Sertões de bacharéis, livro lançado no ano passado, muitos conseguiram realizá-lo. Destarte, oriundos da mesma academia, brilhariam dentro e fora da província, dentre outros, os piauienses Francisco de Sousa Martins (iniciara o curso em Coimbra), Casimiro José de Morais Sarmento, Marcos Antônio de Macedo, Antônio Borges Leal Castelo Branco, José Manuel de Freitas, Antônio de Sousa Mendes Júnior, Eliseu de Sousa Martins, Polidoro César Burlamaqui, Antônio de Sousa Martins e Antônio Coelho Rodrigues. Igualmente, à mesma época, buscariam a Faculdade de Direito de São Paulo: Francisco José Furtado (que iniciara o curso em Olinda, mas, perseguido por suas posições políticas, migrara para lá), José Basson de Miranda Osório, Lourenço Valente de Figueiredo e outros. Como se sabe, fundadas em 1828, com vistas a formar novos quadros dirigentes do País que emergia da Independência, em substituição aos velhos bacharéis coimbrãos, as duas academias atraíam os filhos da aristocracia rural enriquecida pelo trabalho escravo. Paranaguá não poderia fugir à regra.
Por outro lado, naturais de outras províncias mas egressos das mesmas academias, aqui aportariam, para emprestar o concurso de seu talento à administração do Piauí, antes de alçarem altos voos no cenário nacional, outros brilhantes bacharéis. Citam-se, por exemplo, José Antônio Saraiva, João José de Oliveira Junqueira, Zacarias de Góis e Vasconcelos e Franklin Américo de Meneses Dória.
***
Deputado geral em cinco legislaturas (1850/1864) e depois senador vitalício do Império por cerca de 24 anos (1865/1889), sempre pelo Piauí, Paranaguá ocupou quase todos os ministérios no Segundo Reinado (da Justiça – duas vezes, da Guerra, dos Estrangeiros – duas vezes, da Marinha e da Fazenda). Não se sabe porquê, só não ocuparia dois: o do Império e o da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Além do mais, foi conselheiro do Império e desembargador da Relação do Rio de Janeiro. Presidiu as províncias do Maranhão, de Pernambuco e da Bahia. Presidente do Conselho de Ministros (1882/1883), tornou-se o segundo piauiense a governar o Brasil. O primeiro fora o oeirense Francisco José Furtado (1864/1865), embora militante da política do Maranhão.
Devotado ao estudo da realidade do País, presidiu a Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro de 1883 a 1912. No biênio 1906/1907, também o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, tendo passado a presidência ao barão do Rio Branco, no ano seguinte.
Convém destacar, por um dever de estrita justiça, que na carreira fulgurante que o levou dos confins gurgueianos ao brilho dos salões mais sofisticados da Corte, inclusive por privar, como poucos, da intimidade de dom Pedro II, Paranaguá não se descurou da problemática piauiense. Ao contrário. Desde o primeiro momento de sua atuação parlamentar até o último suspiro, sustentou bandeiras ainda hoje recorrentes em nossa agenda de desenvolvimento, tais como a navegação do rio Parnaíba, a interligação das bacias do Parnaíba, São Francisco e Tocantins, a construção de um porto marítimo e a ligação deste com os demais portos do litoral brasileiro. Para ele, promovida a navegação, “o progresso e as ideias do tempo se introduziriam na província [...].” Assim, no firme propósito de dotar o Piauí do tão sonhado porto, não hesitou em patrocinar a permuta, pelo decreto imperial nº 3.012, de 1880, dos áridos sertões piauienses de Crateús pelas areias brancas da antiga freguesia cearense de Amarração, hoje Luís Correia, onde há mais de cem anos a lerda burocracia estatal teima em construí-lo. Paranaguá, arrostando descrenças e incompreensões, fez a parte que lhe competia, à época. E, se algum dia o Piauí concluí-lo, como se espera, que se louve a ação destemida desse gurgueiano de escol.
Por todos os títulos, Paranaguá deve ser motivo de orgulho dos piauienses. Sobretudo, na atual quadra de baixa representatividade política, marcada por frequentes frustrações e desenganos. Com efeito, é fácil perceber que, depois dele e de Félix Pacheco, Petrônio Portella, Reis Veloso, Hugo Napoleão, Valdir Arcoverde, Freitas Neto e João Henrique, praticamente fomos escorraçados do centro das decisões nacionais. Pois bem, se não surgem novos valores, que ao menos se recorra aos velhos! Daí o acerto de nossa Academia em resgatar a memória do velho marquês. No mínimo, concorre para alimentar nossa autoestima, tão carente de estímulos na atualidade.
*Membro da Academia Piauiense de Letras e presidente do Centro de Estudos e Debates do Gurgueia